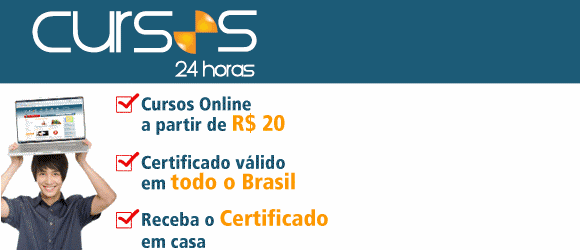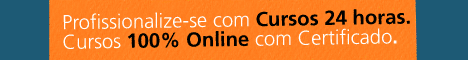Por: Bruno Alvarenga Ribeiro.
Fobia vem do grego Fobos. Para os gregos Fobos era filho de Ares. Na Mitologia Grega Ares é o deus da guerra e Fobos é a personificação do medo e do terror. Fobos era levado pelo pai para as guerras para aterrorizar e afugentar os inimigos. Se Fobos é a personificação do terror, a fobia, seria, então, um tipo de reação emocional marcada exclusivamente pelo medo.
Na fobia o medo é o ator principal e também o plano de fundo, sendo usado como critério para identificá-la. Geralmente quatro condições devem ser satisfeitas para caracterizar uma fobia: 1) A ocorrência de um medo intenso; 2) O medo estar relacionado com uma situação específica; 3) O medo criar a condição para a fuga da situação responsável por sua ocorrência; 4) O medo ser acompanhado por alterações fisiológicas como a taquicardia, a sudorese, o tremor, as vertigens etc.
O Analista do Comportamento olharia com suspeitas para as condições enumeradas. Em primeiro lugar, ele não entenderia a fobia como ela normalmente é entendida. Nas abordagens psicodinâmicas, aquelas que compreendem o comportamento como o produto do funcionamento de um aparelho mental, uma fobia seria a expressão de conflitos inconscientes. A cura ocorreria pela identificação destes conflitos, que por sua vez promoveria uma catarse, ou seja, uma descarga emocional que colocaria fim ao desgaste energético gerado pelos próprios conflitos. Neste sentindo, a fobia seria uma espécie de patologia mental.
O Analista do Comportamento assumiria uma posição bastante distinta. Para ele uma fobia não é uma doença. Aliás, é bom que se diga que ele suspeitaria não somente da fobia enquanto manifestação psicopatológica, como também entenderia que o termo "fobia" serve ao único propósito de descrever a topografia de alguns comportamentos que ocorrem enquanto a pessoa está sentindo um medo intenso, medo que notoriamente está relacionado à exposição a certas contingências de reforço. Isso significa que a descrição é insuficiente, pois ela não revela a funcionalidade do comportamento, ou seja, ela não revela os motivos que produzem o medo e nem como a sua ocorrência está relacionada a circunstâncias bastante específicas.
O Analista do Comportamento seria ainda mais criterioso. Ele não assumiria o medo como a causa da fuga. O medo e a fuga são causados pelas mesmas circunstâncias. O que nelas existe para provocar o medo e a fuga é a presença de controle coercitivo. Como o controle coercitivo assumiu o poder de gerar o medo e de produzir a fuga é algo que se deve investigar na história de reforçamento do indivíduo que sente medo e também foge. Cai, portanto, por terra, o terceiro critério para a caracterização de uma fobia: "O medo criar a condição para a fuga da situação responsável por sua ocorrência". O medo não é a causa da fuga. Ele é tão produto quanto o comportamento de fugir da situação temida. Emoções não são causas de comportamento. Emoção também é comportamento. Isso já foi longamente trabalhado em outras postagens, basta clicar aqui para acessá-las.
O Analista do Comportamento também derrubaria a condição de número quatro, pois o medo é um exemplo de comportamento emocional, o que significa que ele não é marcado apenas pelo aparecimento de respostas reflexas produzidas a partir de condicionamento respondente: taquicardia, tremor, sudorese etc. Ele também é marcado pela ocorrência de consequências que alteram a frequência com que ocorre, o que o caracteriza como comportamento operante. A consequência é manter afastada a situação temida. Sempre que exposto à situação temida o sujeito foge. Fugir é um exemplo de comportamento mantido por reforçamento negativo.
Portanto, a fobia não é uma doença. A fobia é um conjunto de comportamentos que envolve a fuga de uma situação temida. A situação temida é fonte de controle aversivo. O que a fuga faz é afastar os estímulos aversivos. Mas quanto mais o sujeito foge ou mesmo evita a situação temida, mais ele diminui as chances de que o medo enquanto comportamento emocional seja colocado em extinção. É aí que entra a análise funcional. Ela revelará a frequência com que o medo ocorre, que estímulos aumentam as chances dele ocorrer e, que, sobretudo, estabelecem a ocasião para o comportamento de fugir. Feito isso, podem ser planejadas intervenções que tenham como tônica a exposição do sujeito às situações relacionadas com o medo e com a fuga.
Está exposição contribui para que seja rompido o pareamento de estímulos estabelecido por meio de condicionamento respondente. Lembram-se do cão de Pavlov? Quando Pavlov apresentou o som sem que ele fosse associado com a comida, o que acabou acontecendo? O som perdeu a sua função de eliciar a resposta de salivação. A situação temida é o estímulo condicionado que provoca as respostas reflexas que constituem a dimensão respondente do medo: taquicardia, sudorese, tremor, desarranjo gastrointestinal etc. A exposição planejada ao estímulo condicionado diminuirá o mal estar provocado por todas estas respostas reflexas, pois este estímulo sofrerá uma extinção gradual, perdendo, assim, sua função de provocar as respostas enumeradas.
Algo novo ocorre quando o mal estar é minimizado. O sujeito diz para si mesmo: "sou capaz de enfrentar esta situação". Ele produz uma regra que sustentará o comportamento de enfrentamento da situação temida. Essa regra descreve as contingências de uma nova forma: "não preciso ter medo de enfrentar esta situação". As regras anteriores diziam: "tenho medo desta situação, não consigo enfrentá-la". O sujeito passa a descrever as contingências de reforçamento de um modo diferente, e nesta descrição os estímulos aversivos perdem o seu lugar de destaque. Caem por terra as antigas regras, aquelas que faziam com que a situação parecesse temerosa.
Portanto, numa análise comportamental, o que interessa é identificar as contingências que modelaram e que fazem a manutenção dos comportamentos fóbicos, comportamentos que envolvem as dimensões respondentes e operantes do medo. Isso é o mesmo que submeter a fobia a uma análise funcional, análise que fornecerá os parâmetros para a construção de intervenções que coloquem em extinção o comportamento de fugir das situações temidas, e ao mesmo tempo terminem o mal estar produzido por estas situações.
Leia mais...
Fobia vem do grego Fobos. Para os gregos Fobos era filho de Ares. Na Mitologia Grega Ares é o deus da guerra e Fobos é a personificação do medo e do terror. Fobos era levado pelo pai para as guerras para aterrorizar e afugentar os inimigos. Se Fobos é a personificação do terror, a fobia, seria, então, um tipo de reação emocional marcada exclusivamente pelo medo.
Na fobia o medo é o ator principal e também o plano de fundo, sendo usado como critério para identificá-la. Geralmente quatro condições devem ser satisfeitas para caracterizar uma fobia: 1) A ocorrência de um medo intenso; 2) O medo estar relacionado com uma situação específica; 3) O medo criar a condição para a fuga da situação responsável por sua ocorrência; 4) O medo ser acompanhado por alterações fisiológicas como a taquicardia, a sudorese, o tremor, as vertigens etc.
O Analista do Comportamento olharia com suspeitas para as condições enumeradas. Em primeiro lugar, ele não entenderia a fobia como ela normalmente é entendida. Nas abordagens psicodinâmicas, aquelas que compreendem o comportamento como o produto do funcionamento de um aparelho mental, uma fobia seria a expressão de conflitos inconscientes. A cura ocorreria pela identificação destes conflitos, que por sua vez promoveria uma catarse, ou seja, uma descarga emocional que colocaria fim ao desgaste energético gerado pelos próprios conflitos. Neste sentindo, a fobia seria uma espécie de patologia mental.
O Analista do Comportamento assumiria uma posição bastante distinta. Para ele uma fobia não é uma doença. Aliás, é bom que se diga que ele suspeitaria não somente da fobia enquanto manifestação psicopatológica, como também entenderia que o termo "fobia" serve ao único propósito de descrever a topografia de alguns comportamentos que ocorrem enquanto a pessoa está sentindo um medo intenso, medo que notoriamente está relacionado à exposição a certas contingências de reforço. Isso significa que a descrição é insuficiente, pois ela não revela a funcionalidade do comportamento, ou seja, ela não revela os motivos que produzem o medo e nem como a sua ocorrência está relacionada a circunstâncias bastante específicas.
O Analista do Comportamento seria ainda mais criterioso. Ele não assumiria o medo como a causa da fuga. O medo e a fuga são causados pelas mesmas circunstâncias. O que nelas existe para provocar o medo e a fuga é a presença de controle coercitivo. Como o controle coercitivo assumiu o poder de gerar o medo e de produzir a fuga é algo que se deve investigar na história de reforçamento do indivíduo que sente medo e também foge. Cai, portanto, por terra, o terceiro critério para a caracterização de uma fobia: "O medo criar a condição para a fuga da situação responsável por sua ocorrência". O medo não é a causa da fuga. Ele é tão produto quanto o comportamento de fugir da situação temida. Emoções não são causas de comportamento. Emoção também é comportamento. Isso já foi longamente trabalhado em outras postagens, basta clicar aqui para acessá-las.
O Analista do Comportamento também derrubaria a condição de número quatro, pois o medo é um exemplo de comportamento emocional, o que significa que ele não é marcado apenas pelo aparecimento de respostas reflexas produzidas a partir de condicionamento respondente: taquicardia, tremor, sudorese etc. Ele também é marcado pela ocorrência de consequências que alteram a frequência com que ocorre, o que o caracteriza como comportamento operante. A consequência é manter afastada a situação temida. Sempre que exposto à situação temida o sujeito foge. Fugir é um exemplo de comportamento mantido por reforçamento negativo.
Portanto, a fobia não é uma doença. A fobia é um conjunto de comportamentos que envolve a fuga de uma situação temida. A situação temida é fonte de controle aversivo. O que a fuga faz é afastar os estímulos aversivos. Mas quanto mais o sujeito foge ou mesmo evita a situação temida, mais ele diminui as chances de que o medo enquanto comportamento emocional seja colocado em extinção. É aí que entra a análise funcional. Ela revelará a frequência com que o medo ocorre, que estímulos aumentam as chances dele ocorrer e, que, sobretudo, estabelecem a ocasião para o comportamento de fugir. Feito isso, podem ser planejadas intervenções que tenham como tônica a exposição do sujeito às situações relacionadas com o medo e com a fuga.
Está exposição contribui para que seja rompido o pareamento de estímulos estabelecido por meio de condicionamento respondente. Lembram-se do cão de Pavlov? Quando Pavlov apresentou o som sem que ele fosse associado com a comida, o que acabou acontecendo? O som perdeu a sua função de eliciar a resposta de salivação. A situação temida é o estímulo condicionado que provoca as respostas reflexas que constituem a dimensão respondente do medo: taquicardia, sudorese, tremor, desarranjo gastrointestinal etc. A exposição planejada ao estímulo condicionado diminuirá o mal estar provocado por todas estas respostas reflexas, pois este estímulo sofrerá uma extinção gradual, perdendo, assim, sua função de provocar as respostas enumeradas.
Algo novo ocorre quando o mal estar é minimizado. O sujeito diz para si mesmo: "sou capaz de enfrentar esta situação". Ele produz uma regra que sustentará o comportamento de enfrentamento da situação temida. Essa regra descreve as contingências de uma nova forma: "não preciso ter medo de enfrentar esta situação". As regras anteriores diziam: "tenho medo desta situação, não consigo enfrentá-la". O sujeito passa a descrever as contingências de reforçamento de um modo diferente, e nesta descrição os estímulos aversivos perdem o seu lugar de destaque. Caem por terra as antigas regras, aquelas que faziam com que a situação parecesse temerosa.
Portanto, numa análise comportamental, o que interessa é identificar as contingências que modelaram e que fazem a manutenção dos comportamentos fóbicos, comportamentos que envolvem as dimensões respondentes e operantes do medo. Isso é o mesmo que submeter a fobia a uma análise funcional, análise que fornecerá os parâmetros para a construção de intervenções que coloquem em extinção o comportamento de fugir das situações temidas, e ao mesmo tempo terminem o mal estar produzido por estas situações.